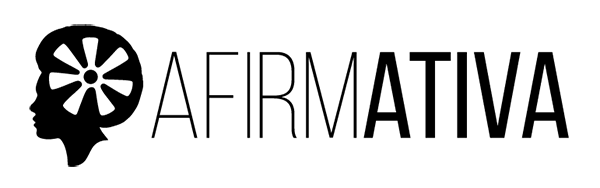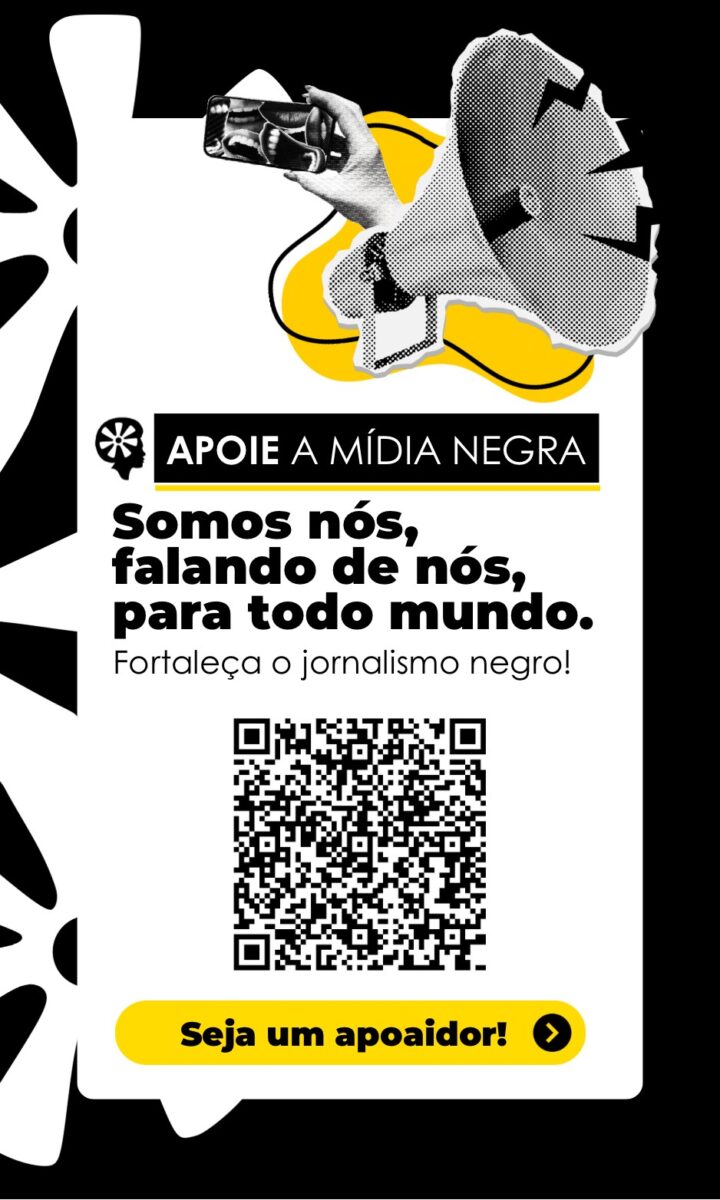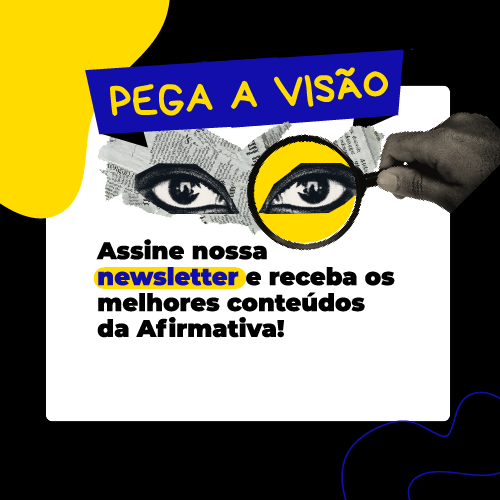Por Alex Pegna Hercog*
Como não se via há muito tempo, um filme nacional furou as bolhas do mercado, de público, da imprensa e dos festivais internacionais. “Ainda estou aqui”, obra dirigida por Walter Salles, com protagonismo da atriz Fernanda Torres, foi abraçada pela população brasileira, que comemorou a vitória no Oscar 2025. Um sentimento coletivo, normalmente experimentado em Olimpíadas e Copa do Mundo, que mexeu com o orgulho das pessoas e criou uma torcida animada que vibrou pelo prêmio de “Melhor Filme Estrangeiro” no festival de cinema mais divulgado do mundo.
A obra parte de experiências pessoais para apresentar as diversas camadas da ditadura militar no Brasil, a partir da perspectiva de uma família branca, da classe média do Rio de Janeiro. Mais precisamente, o filme aborda a vida de Eunice Paiva, cujo marido, Rubens Paiva, foi sequestrado e “desaparecido” pelos militares. A produção é inspirada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice.
Revelador dos crimes cometidos pelos militares, a obra traz uma perspectiva que predomina nos livros e jornais que contam a história do período autoritário que vigorou no país entre 1964 e 1985: o ponto de vista da classe média branca do sudeste brasileiro. No cinema, essa representação também é recorrente e já produziu importantes obras, como O que é isso, companheiro? (1997), O dia que durou 21 anos (2012), Zuzu Angel (2006), Torre das Donzelas (2018) e tantos outros.
No entanto, o contexto da ditadura militar e os impactos para as populações negras e indígenas seguem pouco lembradas, contadas e mostradas. A sociedade brasileira sempre teve como referência os artistas, políticos e jornalistas que foram perseguidos, censurados, torturados e assassinados pelos militares. Mas são poucas as lembranças de trabalhadores negros e negras que resistiram nesse período ou dos mais de 8 mil indígenas mortos durante a implementação do “projeto desenvolvimentista” pelas mãos dos governos militares, de acordo com relatório da Comissão Nacional da Verdade.
Mas, da mesma forma que há um esforço de pesquisadores e pesquisadoras para contar “as outras histórias” da ditadura, a exemplo do livro Tom Vermelho do Verde (de Frei Betto, 2022), também tem ocorrido um movimento para levar para a tela outros corpos. Garimpando bastante, é possível encontrar algumas poucas obras que situam as pessoas negras e indígenas no contexto da ditadura.
População negra, cinema e ditadura
Não é novidade o apagamento da população negra no protagonismo da história brasileira. E essa invisibilidade se nota também no cinema, onde os espaços reservados para cineastas e grandes produtores são destinados a pessoas brancas, sobretudo homens. Para se ter uma ideia, levou-se quase oito décadas para o Brasil ter um filme de longa-metragem dirigido por uma mulher negra: Adélia Sampaio e sua obra Amor Maldito (1984). Depois disso, mais três décadas se passaram para as mulheres negras voltarem a dirigir um longa: Viviane Ferreira, com a ficção “Um dia com Jerusa” (2018) e Camila de Moraes, com o documentário “O Caso do Homem Errado” (2017).
Esses fatos, por si, são reveladores da ausência da história negra no cinema brasileiro. Se não há espaço para diretores negros e negras construírem suas obras, também não haverá representações feitas por e sobre pessoas negras. Não surpreende, portanto, que o cinema brasileiro, que possui uma vasta filmografia sobre o período da ditadura militar, não conte as histórias da população negra durante o regime.
Na tentativa de identificar obras com essa perspectiva, pouco foi encontrado. De destaque, há o documentário O negro da senzala ao soul, produzido em 1977 pela TV Cultura. Dirigido por Gabriel Priolli Neto e Armando Figueiredo Neto, o material é um dos poucos registros sobre o movimento negro brasileiro durante a época da ditadura. Nele, aparecem diversos ativistas, pesquisadores e esportistas com importância histórica para os movimentos de luta do povo negro.
Uma das entrevistadas no documentário é Beatriz Nascimento, uma das mais importantes referências da luta do povo negro no Brasil. Em sua fala, ela destaca o apagamento das populações negras e indígenas no processo de escritura da história brasileira. A historiadora também chama a atenção sobre a continuidade da repressão do Estado contra essas populações, que se intensifica em determinados períodos, e que também impacta nas formas de organização e “aquilombamento” do povo negro.
Outra obra identificada é o documentário Osvaldão (2015), produzido pela Fundação Maurício Grabois, ligada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Dirigido por Vandré Fernandes, André Michiles, Fabio Bardella e Ana Petta, o filme conta a história de Osvaldo Orlando da Costa, militante negro que lutou na Guerrilha do Araguaia, na década de 1970. Osvaldão se transformou em um dos principais líderes na resistência à ditadura.
População indígena, cinema e ditadura
Do pouco que se conta sobre os impactos da ditadura militar nas populações indígenas do Brasil, quase nada vem do cinema. Recentemente, o surgimento de uma geração de realizadores e realizadoras indígenas vem diversificando e se aprofundando nas “outras histórias” contadas ou até esquecidas pelos mais velhos. Juntando com algumas produções antigas, feitas por mãos brancas, tenta-se reconstituir essa história que foi apagada dos livros e do imaginário coletivo sobre o que foi a ditadura no país.
Das produções que levam à Amazônia brasileira, durante os anos de chumbo, destacam-se obras do cineasta Jorge Bodanzky, homem branco nascido em São Paulo. Em seu mais premiado filme (co-dirigido por Orlando Senna), Iracema: uma transa amazônica (1974), os diretores levaram à tela a representação de uma personagem indígena no contexto da implantação da rodovia Transamazônica, propagandeada pelo governo militar como símbolo de desenvolvimento e crescimento econômico.
Em 2024, no contexto de 50 anos de “Iracema”, o filme foi restaurado, ainda que o seu conteúdo continuasse atual durante todo esse tempo. Outro filme dirigido por Bodanzky é Jari (1979), que conta com a co-direção de Wolf Gauer. O documentário, produzido no contexto da ditadura militar, aborda o Projeto Jari, liderado por um bilionário estadunidense e que implementou um complexo industrial na região amazônica que abarca parte do território do Pará e Amapá. Novamente, o projeto “desenvolvimentista” do governo militar para a Amazônia, com a exploração do trabalho e do território indígena, além da promíscua relação com empresários dos Estados Unidos – uma marca do regime militar – são retratadas no documentário.
A dupla Bodanzky e Wolf Gauer também rodou o filme Terceiro Milênio (1980), acompanhando o senador amazonense Evandro Carreira pelo rio Solimões, durante sua campanha para governador do estado. O documentário aproxima o espectador do contexto político no período da ditadura e vai revelando as subjetividades nas relações do candidato com indígenas, ribeirinhos e madeireiros da região.
Outra produção – de grande valor histórico – é Arara, de autoria do diretor brasileiro de descendência alemã Jesco von Puttkamer. A obra, de 1970, registra o desfile da Guarda Rural Indígena (GRIN) e conta com uma rara imagem de tortura praticada pelos militares. A cena de dois membros da Guarda desfilando com um homem amarrado em um “pau de arara” é a única imagem encontrada na história sobre essa modalidade de tortura no Brasil. Esquecido nos arquivos nacionais, “Arara” foi redescoberto em 2012, durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e ajudou a aquecer os debates sobre a atuação do GRIN, uma milícia onde indígenas de diversas etnias foram cooptados para exercer o controle e violência contra a própria população indígena.
A descoberta de “Arara” inspirou a produção do documentário Grin (2016), dirigido por Roney Freitas e Isael Maxakali, em co-direção com Sueli Maxakali. Os cineastas entrevistaram indígenas do povo Maxakali sobre o período de atuação da Guarda Rural Indígena – a obra está disponível na internet. Os relatos revelam o período sombrio da ditadura no território indígena situado no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Os Maxakali “mais velhos” trazem a memória desse período, marcado pelo controle da Guarda sobre os corpos da população indígena, a partir de recorrentes casos de violência, além de “contaminar” as estruturas sociais das comunidades indígenas. A história da atuação da GRIN também foi abordada no filme A Flecha e a Farda (2020), de Miguel Antunes Ramos.
Sueli Maxakali e Isael Maxakali também dirigiram Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá, junto com Roberto Romero e Luísa Lanna. O documentário, lançado no final de 2024, segue percorrendo festivais no Brasil. De acordo com a divulgação do filme, a obra “cruza narrativas pessoais e históricas ao acompanhar a busca de Sueli e Maiza Maxakali por seu pai, Luis Kaiowá – em viagens que conectam os povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá, o nordeste de Minas Gerais e o sul de Mato Grosso do Sul”. Durante a ditadura militar, Luis foi levado por agentes do Estado a outra aldeia e, desde então, suas filhas não tiveram mais notícias.
Apesar do filme partir de uma busca pessoal, a história vai revelando as camadas dos impactos da ditadura militar na população indígena, mas também se situa no presente das atuais gerações, em conexão com a memória preservada por seus ancestrais e viva nos cantos, nos ritos, no idioma e nas lembranças individuais e coletivas. Apesar de partir do contexto do regime militar, a diretora Sueli Maxakali enfatiza que, para o povo indígena, “a ditadura não acabou”. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Sueli afirma: “nosso povo ainda enfrenta prisões, violências e lutas constantes pelo direito aos territórios. É como se estivéssemos lutando contra as fronteiras que começaram com os portugueses.”
Ainda estão aqui
“Ainda estou aqui” fez história. Não apenas pelas diversas premiações internacionais, mas pelo alcance interno, algo que o cinema nacional não está tão acostumado. E essa visibilidade dá combustível para o debate político em diversas questões, desde a importância do setor cultural e das políticas públicas de fomento, passando pela crítica ao regime ditatorial, mas também fazendo lembrar que os populações negras e indígenas sempre estiveram aqui e viveram os anos de chumbo.
Nesse sentido, o cinema cumpre um papel especial na visibilização desses corpos e os impactos causados pela ditadura militar. As poucas obras identificadas com esse perfil já revelam o tamanho do desafio, no entanto, as provocações sobre essa omissão histórica abrem possibilidades para o aprofundamento de pesquisas e produções que abordem as populações negras e indígenas no contexto do regime militar. Ganha o cinema nacional, ganha o Brasil e faz justiça com as populações excluídas da “história oficial”.
*Alex Pegna Hercog é baiano, comunicador popular e membro do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social.
** Este é um artigo de opinião que está dentro da nossa política editorial, mas não reflete necessariamente o posicionamento da Revista Afirmativa