Por Catiane Pereira e Matheus Souza*
A utilização de pigmentos e tintas para adornar a pele é uma prática dos seres humanos que possui, pelo menos, 50 mil anos. Muito além da estética, o grafismo é um código ancestral: uma complexa forma de comunicação visual composta por linhas, formas geométricas e padrões estilizados. Aplicados em corpos, cerâmicas, tecidos e arquitetura, esses desenhos carregam consigo a memória, a cosmologia, a hierarquia, e, sobretudo, a identidade pessoal e coletiva de cada povo.
Egípcios, hindus e tribos africanas são alguns dos muitos exemplos de povos que utilizaram e ainda utilizam linhas, formas e cores para registrar na pele a cultura e costumes de suas comunidades.
Essa diversidade, manifestada de inúmeras formas, encontra uma de suas mais visíveis e poderosas expressões no grafismo indígena. O território brasileiro abriga cerca de 1,7 milhão de pessoas indígenas, pertencentes a 266 etnias e falantes de mais de 160 línguas diferentes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa é que antes da invasão portuguesa cerca de 5 milhões de pessoas, com 1200 diferentes aldeias e dialetos, habitavam o que hoje chamamos de Brasil.
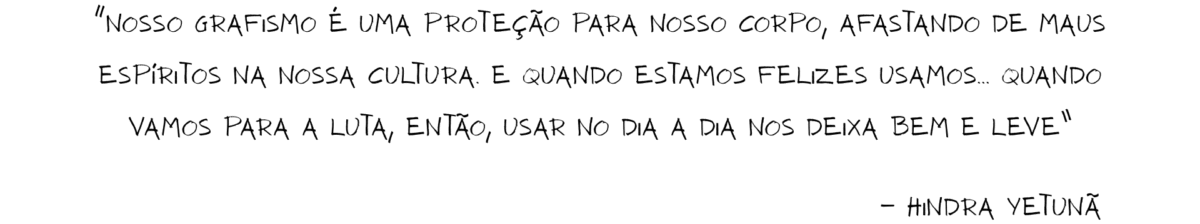
Como explica Rosimere Arapaço, vice-coordenadora da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira-E’ta), os grafismos “marcam a identidade de cada povo […] não apenas decoram o corpo, mas, também, simbolizam a resistência”. Utilizando tintas naturais como urucum e jenipapo, cada traço tem um significado que pode refletir status, proteção, ou a preparação para rituais e festividades. Para a comunidade Kayapó, por exemplo, o grafismo da teia de aranha simboliza a interconexão entre todos os seres e a força da coletividade.
No entanto, essa expressão vital de cultura e resistência se tornou alvo de violência. Em julho deste ano, no coração da Amazônia, três estudantes indígenas da Escola Municipal Raimundo Teodoro Botinelly Assumpção, localizada na Zona Norte de Manaus (AM), sofreram um grave episódio de racismo que expôs como o preconceito tenta silenciar e deslegitimar a identidade originária dentro do próprio sistema de ensino.
Coisa de Galeroso

A denúncia foi feita por Hindra Yetunã, mãe das crianças Maria Clara (15 anos), Wuadan Aniksom (13 anos) e Melquesedeque (11 anos). Segundo o relato, uma professora da escola se referiu aos grafismos pintados no corpo dos jovens como “coisa de galeroso”, um termo pejorativo e criminalizador, usado para designar “ladrão ou arruaceiro”.
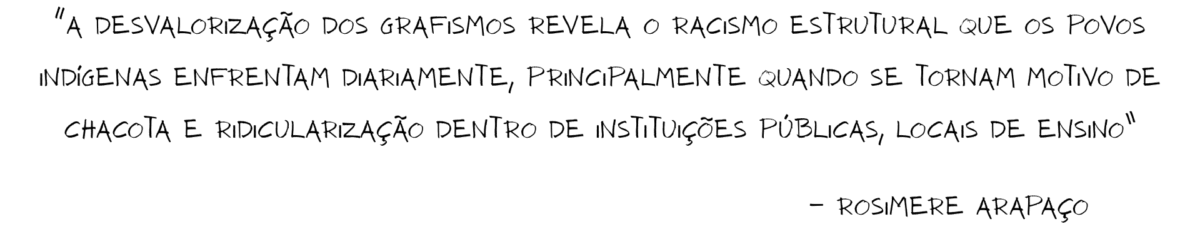
O ataque à pintura corporal, um elemento sagrado de proteção e celebração, atingiu diretamente a autoestima e a segurança dos adolescentes.
“Nosso grafismo é uma proteção para nosso corpo, afastando de maus espíritos na nossa cultura. E quando estamos felizes usamos… quando vamos para a luta, então, usar no dia a dia nos deixa bem e leve,” explica Hindra Yetunã. “É importante usar [o grafismo] com liberdade, para que nossa cultura não morra e seja passada em geração.”
O choque entre a sacralidade do grafismo e o preconceito da educadora causou um profundo trauma familiar. “Essa situação causou um grande impacto nos meus filhos, pois ficaram com vergonha, medo… constrangidos de voltar à escola”, desabafa a mãe.
Para Hindra, o sentimento predominante foi de “raiva e tristeza pelo motivo de não sermos respeitados em uma escola urbana”. O preconceito, segundo ela, nasce da “maldade… a discriminação está no coração, o nojo e a raiva da nossa existência”.
O episódio reforça a crítica de Rosimere Arapaço, da Makira-E’ta: “A desvalorização dos grafismos revela o racismo estrutural que os povos indígenas enfrentam diariamente, principalmente quando se tornam motivo de chacota e ridicularização dentro de instituições públicas, locais de ensino…”.
Hindra, que é Tuxaua (liderança política) em sua comunidade, afirma que as escolas, em geral, não estão preparadas para lidar com a diversidade cultural por “falta de formação específica dos professores, recursos limitados, infraestrutura inadequada e a resistência a mudanças de mentalidade”. Ela acredita que a solução passa por profissionais com mais amor e dedicação.
Educação e diversidade

Apesar de a Lei 11.645/2008 tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo, o relato de Hindra Yetunã aponta para uma falha sistêmica na aplicação da legislação e na preparação do corpo docente. A professora, antropóloga e especialista em Educação Escolar Indígena, Eliane Boroponepá Monzilar, aponta que é necessário que haja maior conscientização e punição para estas violências. Oriunda do povo indígena Balatiponé-Umutina, em Mato Grosso, ela foi a primeira mulher indígena a concluir doutorado em Antropologia na Universidade de Brasília (UnB).
“Nós conquistamos muitos avanços, mas o racismo, como algo enraizado e colonizado, ainda é muito forte na nossa contemporaneidade. Uma das formas que a invisibilidade indígena ainda se apresenta é na falta de discussão nas escolas, nos espaços comunitários, porque ainda há muita discriminação instituicional, como nesse caso de Manaus”, afirma a professora.
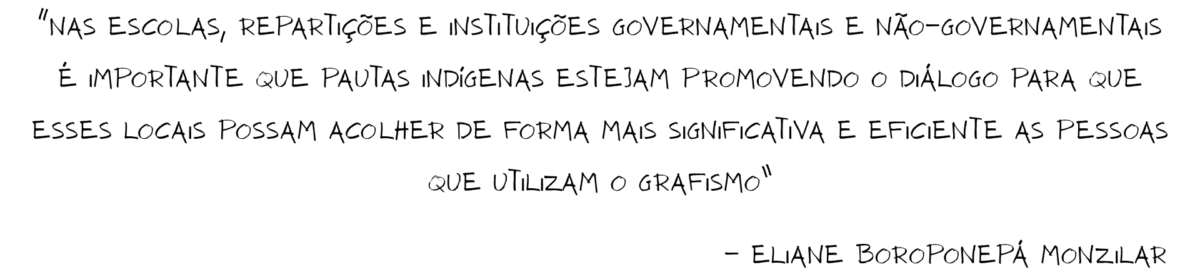
A antropóloga explica que ainda é preciso alinhar a formação de professores com uma agenda de inclusão cultural nas escolas e outros ambientes de criação do saber. “Professores são educadores, que estão na linha de frente na conscientização dos cidadãos. Infelizmente, ainda há professores preconceituosos. A lei garante que os professores devem conhecer nossa cultura, trazer os indígenas para falar, dar palestras, e essa é uma das estratégias para minimizar o problema do racismo.”
Eliane salienta que atualmente os povos indígenas têm ostentado em suas participações em movimentos sociais, escolas e espaços públicos o uso de adereços tradicionais, como o cocar, colares, pulseiras, braceletes, vestimentas e pinturas, numa tentativa não só de apresentar seus costumes, mas com uma forma de resistência.
“Nas escolas, repartições e instituições governamentais e não-governamentais é importante que pautas indígenas estejam promovendo o diálogo para que esses locais possam acolher de forma mais significativa e eficiente as pessoas que utilizam o grafismo. Essas instituições precisam estar abertas à essa diversidade”, finaliza a professora.
A reportagem da Afirmativa entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, órgão responsável pela unidade escolar, em busca de um posicionamento sobre o caso, as medidas tomadas em relação à professora denunciada e o plano de ação da instituição para promover a educação antirracista. Até o fechamento desta edição, não houve resposta da instituição municipal.
O silêncio do estado diante de uma denúncia de racismo é, por si só, um dado que preocupa, pois contraria a urgência de políticas de acolhimento e denúncia, reforçando a sensação de desamparo relatada pela família.
Grafismo está na moda

Estilistas indígenas do Amazonas utilizam o grafismo para além da pele, colocando os riscos e linhas em roupas e acessórios que, além de mostrar sua cultura para o mundo, também garantem renda para suas comunidades. Iniciativas como o Ateliê Derequine, em Manaus, que estimula o trabalho artesanal e sustentável de estilistas indígenas dos povos Witoto, Mura e Dessana, e a Amazon Poranga Fashion, evento de moda internacional criado para dar destaque e impulsionamento na moda indígena da região através de uma cadeia de empreendedorismo sólido.
A professora Eliane explica que indígenas têm utilizado a moda para desmistificar e disseminar a cultura dos grafismos. “Eu vejo como uma força de fortalecer e divulgar a pintura corporal dos povos originários. É um trabalho de vários artistas indígenas, não somente de divulgação e de fortalecimento dos saberes indígenas, como também um meio econômico sustentável para esses povos.”
Pela liberdade de Ser Indígena
O caso dos estudantes de Manaus é um lembrete contundente de que, no Brasil, o racismo afeta diretamente a vida dos povos indígenas. Hindra não se cala e faz um apelo. Ela espera que as autoridades “ajam conforme nosso direito” e que a escola trate os povos indígenas com mais respeito. Para outros pais que enfrentam o mesmo drama, a mensagem é de coragem. “Peço que os pais tenham atitude de denúncia e não se calem diante das situações dos seus filhos, porque muitos jovens sofrem calados.”
Para reverter essa triste realidade, Rosimere Arapaço, Hindra Yetunã e Eliane Boroponepá convergem na necessidade de uma educação antirracista efetiva. Isso envolve capacitação docente, currículo inclusivo, combate a preconceitos e a valorização da ancestralidade. Acima de tudo, significa promover um diálogo ético e respeitoso, utilizando a educação para desconstruir a discriminação.
O grafismo indígena, em sua beleza e complexidade, segue como um escudo e um grito. Ele é a prova viva de que a cultura originária resiste e exige seu lugar de direito e respeito em todos os espaços, especialmente onde a vida e o futuro das novas gerações estão sendo moldados: a escola.
*Com informações de Terra e Projeto Seta








