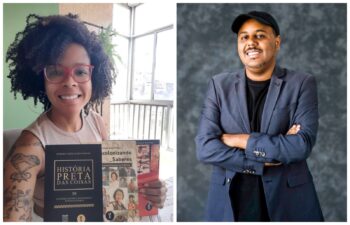Por Laila Garroni*
Imagem: Napy
“Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda. Ele virou-se sério para mim e disse: ‘Simona, ou você vai ser alguém na vida, ou vai morrer crioulo mesmo’”, a frase, que abre o documentário Simonal – Ninguém Sabe o Duro que Dei, é seguida por risadas do cantor e público, que tentam maquiar a perversidade que ela carrega.
De forma generalizada, cada pessoa negra tem sua própria forma de sobreviver aos traumas causados pelos resquícios da escravidão, tendo ela consciência disso ou não. Algumas são ‘as melhores das melhores’, se destacam pela inteligência, talento e trabalho árduo tão intensos que até se duvida de sua condição humana. ‘É um gênio’, dizem. Outros, são menos ambiciosos, querem ser como qualquer um e assim vivem, ignoram estatísticas ou conversas que comprovem que o seu tom de pele determina qualquer instância em sua vida. Tem também os rebeldes, ‘tudo para eles é sobre raça’. Esses lidam com a questão sem fantasia ou rodeio, acham que se fizerem barulho o bastante algo há de mudar. E, é claro, existem os que mesclam um pouquinho de cada.
É óbvio que essas mesmas estratégias, inerentes a qualquer ser humano, podem ser também desempenhadas por pessoas brancas, por outras razões. Mas no caso de pessoas de descendência africana, existe a ânsia, o desejo ou até mesmo a esperança que essas práticas atestem ao mundo externo sua condição humana, contrapondo o lugar reservado para os pretos pelo imaginário branco racista. Imaginário esse que ainda é visto e vivido como realidade por boa parte da população. Não importa a tática escolhida, é como se vivêssemos em resposta à branquitude, perdendo assim nossa individualidade e independência. O psicanalista francês Frantz Fanon, em seu livro ‘Pele Negra, Máscaras Brancas’, de 1952, cita esse ciclo vicioso em que parecemos viver, onde, segundo ele, os brancos se consideram superiores, e os negros querem comprovar, “custe o que custar”, a sua inteligência.
Mas o que acontece quando as táticas começam a dar defeito? Quando não damos mais conta ou não temos mais interesse em desempenhar determinados papéis impostos pelo racismo? O que acontece quando Wilson Simonal não pode mais cantar? Ou a atleta Simone Biles perde o controle do seu corpo? O que acontece quando as estatísticas saem da televisão e chegam tão perto que já não podem ser ignoradas? Ou quando nenhum protesto, texto de Facebook ou live do Instagram dão conta da dor e revolta por mais um assassinato de um negro pela polícia?
Há tempos se fala sobre as consequências econômicas e sociais do racismo estrutural. Mas é recente a atenção sobre o impacto desse mesmo sistema na área mais íntima do ser humano, sua psique. “De quatro anos pra cá, eu tive no meu consultório uma exponencial crescente na procura de pessoas negras, que me procuravam com a intenção de serem acolhidas na sua dor do ponto de vista do racismo estrutural”, confirmou o psiquiatra Felipe Paz, que tem uma clínica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Em 2020, sem dúvidas o ano mais pesado do século, Naomi Osaka competiu todos seus jogos no US Open, maior torneio de tênis dos Estados Unidos, estampando em seu rosto os nomes de americanos negros assassinados pela polícia. Para quem, assim como eu, viveu ano passado não só atormentado pela pandemia, mas também pela perversidade desses assassinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Marquez Arbery e Elijah McClain, a decisão da tenista de não participar das Olimpíadas para preservar sua saúde mental não surpreende nem um pouco.

Nesse mesmo período, no Brasil, testemunhamos as mortes de: João Pedro de Martins Pinto, adolescente negro morto dentro de casa por um tiro de fuzil durante operação polícial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo; Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, morto também pela polícia durante distribuição de cestas básicas às famílias carentes no Morro da Providência; de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morto ao cair do nono andar de um prédio de luxo na área central de Recife depois de ser deixado sozinho no elevador pela chefe de sua mãe; e de João Alberto Silveira Freitas, morto após ser espancado por dois seguranças em um supermercado em Porto Alegre.
Casos como esses, que desencadearam a ira contra esse sistema que ainda permite que eles aconteçam e provocaram diversos protestos ao redor do mundo, são vividos no individual de forma mais profunda. “As pessoas negras que eu atendo se sentiram muito sensibilizadas pelo que aconteceu, recordando as suas dores, os seus traumas, as suas condições de experiências traumáticas que naquele momento estavam sendo atualizadas por aquelas atrocidades”, avaliou Felipe. O psiquiatra também ressaltou que o período pandêmico torna tudo ainda mais perigoso. “Diante dessa fragilidade que foi a pandemia, por exemplo, a pessoa viver uma experiência de racismo ou pensar mais a fundo sobre a questão, enfim, isso pode adoecer muito, enlouquecer, da pessoa ficar incapacitada, pelo menos temporariamente”.
Assim como Naomi, Simone Biles desistiu da competição por questões emocionais e por muitos foi chamada de fraca. A maior ginasta dos últimos tempos, se não de toda a história do esporte, se tornou ‘fraca’ em questão de horas. Ou seja, rapidamente se decidiu que tudo o que já havia sido provado pela atleta não importa mais. Sua história de vida fora descartada. Em entrevista, a atleta confessou não se sentir mais em “controle do seu próprio corpo” e que era muito assustador estar no ar e não saber onde iria aterrissar. De acordo com Felipe, a decisão da atleta foi um gesto de resistência e de força pessoal. “Esse ‘não’ é essencial para a sobrevivência psíquica inclusive”, completou.

Este texto não reflete necessariamente a opinião editorial da Revista Afirmativa