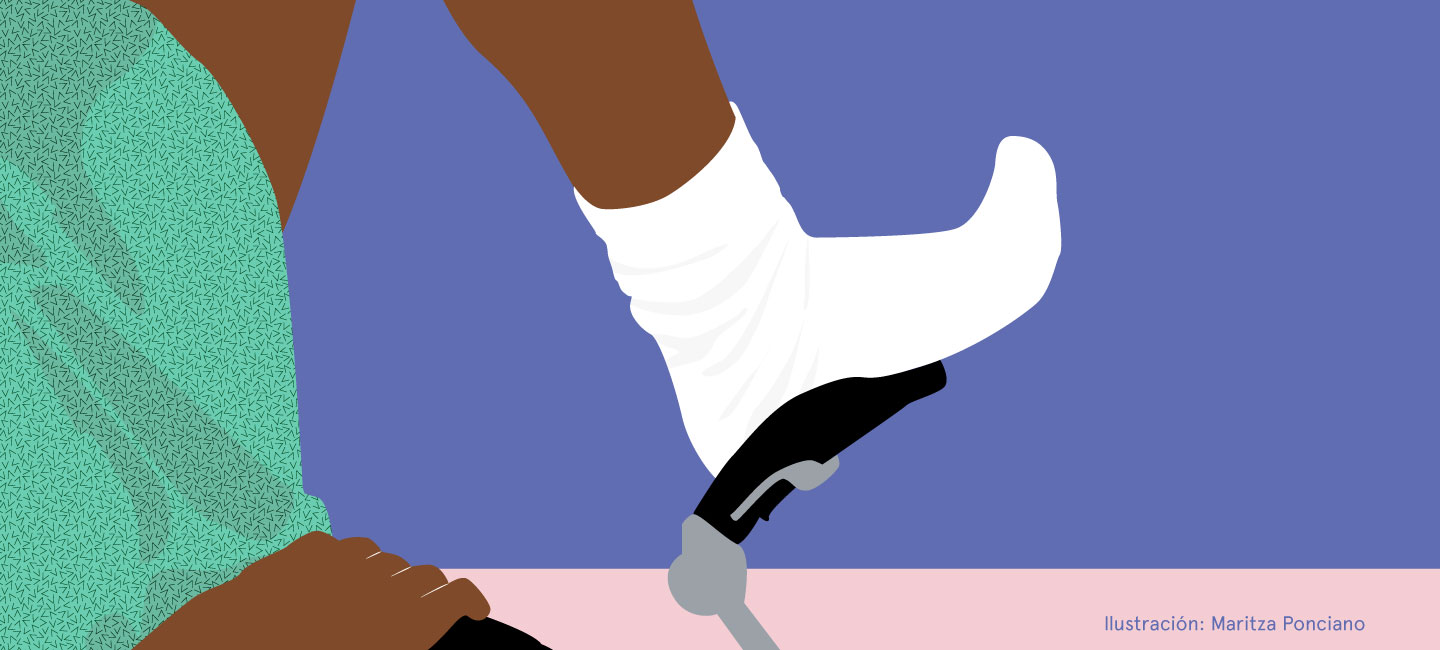No Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, a Afirmativa traz relatos de mulheres que sofrem as consequências do desinteresse dos profissionais de saúde a respeito das suas especificidades
Por Andressa Franco e Patrícia Rosa
Adna Rodrigues, 28 anos, foi ao ginecologista pela primeira vez antes da primeira menstruação. Para ela foi um momento estranho, e com o passar dos anos as experiências médicas se tornaram mais incômodas e invasivas. Mulher negra, lésbica e mãe de uma menina de oito anos, a regularidade de consultas médicas, especialmente ginecológicas, não é uma realidade em sua vida, a menos que haja uma “emergência”.
“Depois do parto fui à ginecologista três vezes no máximo. O atendimento mudou pra mim no momento que comecei a dizer que era uma mulher lésbica. As perguntas tomam caminhos diferentes, principalmente sobre IST’s, sempre me sinto julgada”. Com a gravidez, as abordagens ficaram mais agressivas, com dúvidas sobre sua sexualidade, “como é que você engravidou se você é sapatão?”.
Trancista e estudante de gênero e diversidade, Adna é casada com Rayane Nascimento, 30 anos, com quem criou o Salão de Crioulo, que nasceu em Natal (RN) e funciona hoje em Salvador (BA). Rayane é natural de Natal (RN), a mais velha de cinco irmãos e filha de mãe solo. Consultas médicas não fizeram parte de sua infância e adolescência. Na vida adulta, aproveitava quando estava em um emprego com direito a plano de saúde para fazer check-up.
“Preta e pobre é bem difícil manter um acompanhamento regular em uma unidade particular”, pondera Rayane, gestora de recursos humanos. “Quando eu falava sobre minha sexualidade, encaravam como se não fizesse sexo, a única coisa que eles faziam era passar o preventivo, qualquer coisa além disso só se eu pedisse.”

A saúde sexual das mulheres lésbicas ainda é negligenciada. Essa comunidade sofre as consequências do desinteresse dos profissionais de saúde a respeito das suas especificidades. Uma pesquisa publicada em 2018 pelo The Journal of Sexual Medicine sobre assistência ginecológica de mulheres lésbicas no Brasil, constatou que o roteiro de perguntas segue um padrão heteronormativo, que os profissionais não questionam sobre a orientação sexual das pacientes, falam com frequência sobre o uso de anticoncepcional e usavam aparelhos de espéculos vaginais inadequados para elas.
Para Rayane, eles não enxergam a possibilidade do sexo entre mulheres. Consequência disso, sua última consulta ginecológica se deu em 2016, e a de sua companheira em 2020.
“A consulta ginecológica é invasiva”
Para a ginecologista, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Andrea Rufino, de55 anos, mulheres lésbicas ainda desconhecem a necessidade de coleta e prevenção de câncer do colo uterino e a vulnerabilidade com relação às infecções sexualmente transmissíveis. A médica ressalta a importância do investimento na formação de profissionais de saúde.

“É urgente que a Política Nacional de Assistência Integral LGBT (2010) seja atualizada e implementada amplamente. O investimento em educação continuada aos profissionais de saúde é fundamental para mudar o cenário da assistência”, explica a médica que realizou uma pesquisa nacional sobre a saúde de mulheres lésbicas. Ela0 defende campanhas informativas dirigidas a esse grupo populacional para dar visibilidade e conhecimento sobre as especificidades relacionadas à saúde sexual e reprodutiva delas.
Dentro das suas poucas experiências, Ray e Adna já tiveram uma consulta agradável, com uma profissional que entendia suas especificidades. Mas, o fato de ser uma clínica particular dificulta a possibilidade de seguir com o atendimento. Em suas pesquisas antes de marcar uma consulta, priorizam sempre o menor custo e compartilham dicas e experiências com as irmãs de terreiro, por exemplo.
“No SUS você espera um mês para conseguir marcar e a consulta é só para daqui não sei quantos meses, sendo que você só tem 15 dias para retornar com os exames”, crítica Adna. “A consulta ginecológica é invasiva. Você nunca vai saber se aquilo é uma violência ou realmente um exame. Já teve vezes de na hora do Papanicolau eu não conseguir ficar relaxada o suficiente e ir pra casa com cólicas absurdas.”
Adna ainda vivencia a interseccionalidade de ser uma mulher gorda, o que vem a afastando ainda mais dos médicos. “A primeira frase deles é: você precisa emagrecer. Antes mesmo de saber qual é o problema. Depois dessa frase é tudo sobre isso.”
Prevenção e cuidados
Os métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ainda não são popularizados na comunidade lésbica. Para o casal, Adna e Rayane, esse conhecimento chegou em pesquisas pessoais e por trabalhos feitos por coletivos de mulheres lésbicas e bissexuais.
“Eu participei de um projeto, a caravana LésBi, que falava sobre prevenção e descobri várias táticas que as mulheres lésbicas usam, fazendo uma cartilha sobre saúde lésbica”, conta Adna. Para sua companheira Rayane, a internet foi uma aliada para o conhecimento enquanto a saúde sexual e para a busca por representatividade.
A ginecologista Alessandra Ottan ressalta que existem Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) que podem ser transmitidas no sexo entre mulheres, como Herpes e HPV, HIV e Hepatite C no caso do sexo oral. E se acrescenta à lista gonorreia, clamídia e sífilis no caso do sexo com penetração. Como uma das principais formas de proteção, existe a vacinação.

A maioria dos métodos de prevenção são adaptações. Entre eles, Ottan destaca:
- Uso de luva e dedeira na relação sexual com penetração;
- Higienizar próteses e vibradores com água e sabão antes e após a relação sexual;
- Trocar a camisinha em caso de mudança de via vaginal para anal ou se for usar o mesmo ‘brinquedo’ na parceira;
- Camisinha feminina;
- Dental Dam;
- Calcinha de Vênus;
- Compartilhar exames de ISTs com a parceira;
“Sem dúvidas, temos poucos estudos na literatura”, constata Alessandra. “Mas hoje, na era da informação, creio que falta, por parte dos profissionais, o interesse de se atualizar no tema.”
Atuação de Coletivos e Políticas Públicas
O Coletivo Sapato Preto Amazônida (SPA), atua há dois anos em Belém (PA), desenvolvendo ações especificamente com mulheres lésbicas. A pauta da saúde se fez necessária com a percepção de que é “o tema mais esquecido da vida de uma sapatão”. É o que aponta a co-fundadora do grupo, Patrícia Gomes, de 47 anos, que há 15 atua como assistente social da Secretaria de Saúde do Pará.
Em uma roda de conversa sobre o tema, relata, o coletivo perguntou quem tinha realizado o exame preventivo nos últimos dois anos. Em uma turma de 22 lésbicas, apenas duas realizaram, nenhuma tinha sequer visualizado uma camisinha feminina, ou feito qualquer exame de rotina.
Para Patrícia Gomes, que também é ativista feminista do movimento negro de Belém e integrante da Candaces-Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais negras feministas, as mulheres lésbicas vivenciam o mito de que não irão contrair doenças sexualmente transmissíveis.
Em parcerias com secretarias de saúde municipais e estaduais, o SPA desenvolve ações de saúde com consultas ginecológicas, realização de exames e testes rápidos. “Ações micro para dois pequenos grupos na contramão do abandono e zero políticas de saúde para nossa comunidade lésbica do Estado”, lamenta.

A co-fundadora do SPA observa uma invisibilidade latente no campo das políticas públicas de saúde quando se é negra, amazônida e lésbica. O desconhecimento sobre as diferenças entre as expressões da diversidade sexual e de gênero são um obstáculo no atendimento nas UBS e UPA.
“Uma delas relatou [à ginecologista] que nunca tinha realizado sexo com penetração, por medo do espéculo, a médica riu e utilizou um espéculo comum, que a machucou. Essa violência criminosa fez com que ela nunca mais entrasse num consultório. Outra relatou que foi atendida de portas abertas, pois a médica temia o seu ‘jeito masculino’”, exemplifica.
Uma das propostas do coletivo é a criação da Rede de Amazônia Paraense de Lésbicas com objetivo de redigir uma carta de propostas de políticas públicas para as lésbicas e apresentar aos governos.
Carmen Ribeiro integra o Coletivo Matizes, do Piauí. A advogada de 38 anos já deixou de ir ao médico com medo de ser constrangida, e hoje levanta a pauta através do ativismo no seu estado. “Uma coisa é eu ter condições financeiras de pagar uma boa médica. Outra coisa é morar na periferia e ter que recorrer a UBS, aonde vou me deparar com um profissional que não está atento às minhas especificidades”. Para ela, essas questões devem ser tratadas ainda na academia, na formação dos profissionais.

Vale lembrar que no Censo Demográfico do IBGE de 2022 não inclui perguntas sobre orientação sexual, apesar de esta ser uma demanda antiga do movimento. “Quem não é contado não existe. Essa decisão impacta diretamente na formulação de políticas públicas para esse segmento, contribuindo para a nossa permanência à margem da sociedade, sem desfrutar dos mesmos direitos que os outros”, finaliza Carmen Ribeiro.