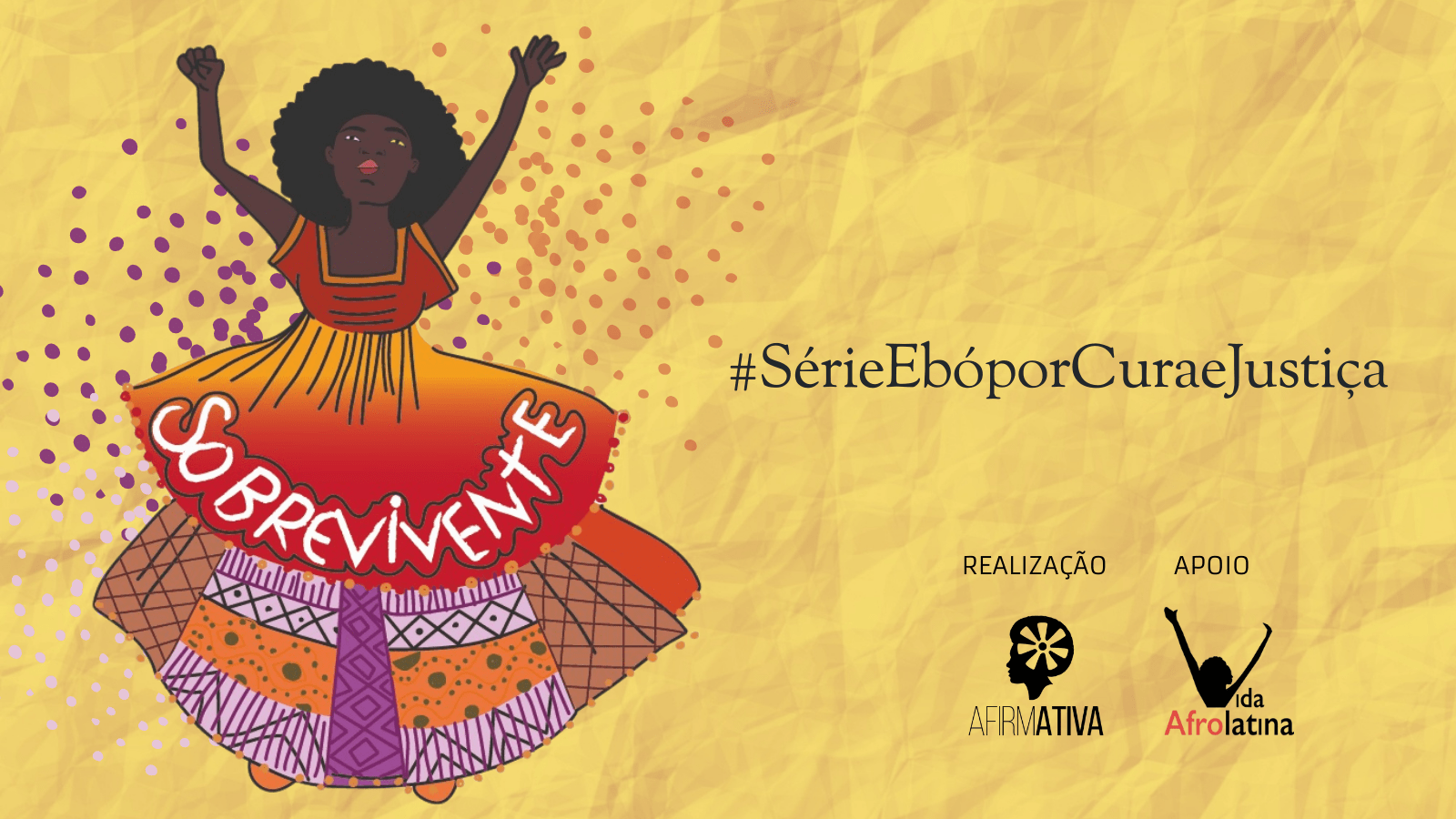Por I’sis Almeida
Arte: Ani Ganzala
Imagine andar tranquilamente nas ruas, ônibus, aplicativos de transporte, sem necessitar dar satisfação a terceiros a fim de garantir voltar para casa em segurança. Imagine não precisar ter medo das ruas, das horas que passa nelas. Como mulher, pense como seria ficar à vontade em um grupo de homens em seu ambiente de trabalho. Seria incrível. Esse seria o mundo ideal onde nós somos livres para ir e vir e somos respeitadas pela sociedade. A realidade é bem diferente, e para as mulheres negras ainda pior.
A naturalização da violência sexual contra mulheres faz parte de processos civilizatórios coloniais e reflete até hoje em como nossos corpos são interpretados pelos homens. O relatório “A cor da violência: Uma análise dos homicídios e violência sexual na última década” apresentado em 2020, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), reveleu que em 2017 as mulheres negras sofreram 73% dos casos de violência sexual registrados no Brasil. Enquanto que, as mulheres brancas foram vítimas em 12,8%. De 2009 a 2017, o número de mulheres negras vítimas de estupro aumentou quase dez vezes.
Era 2011, Fran Cardoso era estudante de comunicação quando foi vítima de estupro na cidade de Salvador (BA). Ela, que hoje é produtora cultural e podcaster do Pele Preta SSA, sobreviveu não apenas a uma violência sexual, mas também a violência institucional.“No dia em que tudo aconteceu, era noite de lua cheia. Eu pedia para minha mãe Iemanjá que só me deixasse voltar viva para casa”, conta ela sobre o ocorrido. Fran prestou queixa e na época teve o caso divulgado em um dos programas de maior audiência de Salvador. Apesar de seu nome não ter sido exposto, ela foi, naquele contexto, revitimizada, já que o teor da reportagem questionava seu comportamento. Familiares do agressor alegaram que ele era uma pessoa com deficiência mental. Ela estava na reta final da realização de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e mesmo abrindo o ocorrido para entidade a qual estudava, precisou cumprir com os prazos estipulados pela faculdade normalmente.
Sua colega de profissão, Joseanne Guedes, jornalista e assessora de comunicação, conta que já viveu inúmeras situações de violência sexual, na maior parte das vezes casos de importunação. Um dia, ainda jovem, quando também retornava da universidade, a mesma que Fran Cardoso estudou, a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA), percebeu um homem de bicicleta acompanhando seu ritmo. Mesmo adiantando o passo, Joseanne conseguiu perceber que o abusador se masturbava em via pública. Em seguida, ele ejaculou no chão. Diferente de Fran, Joseanne não prestou queixa sobre a violência sofrida. “Eu fiquei aterrorizada, sem ação. Hoje, talvez, teria uma postura diferente da que tive na época”, relata.
Caso parecido ao de Fran Cardoso, ocorreu em Belo Horizonte (MG). Cínthia Albuquerque*, mulher negra, assistente social, voltava de uma festa a noite e pegou um ônibus que a deixava um pouco longe de casa. Ela conta que no caminho pegaria um táxi para terminar de chegar ao lar. Assim que desceu, percebeu que a avenida estava vazia. Ela avistou um homem jovem correndo em sua direção, imaginou que fosse assalto, o que de fato aconteceu. Mas, logo em seguida ele a puxou para uma rua mais deserta. Infelizmente, ela também foi estuprada. Estes casos são conhecidos como “latrocínio seguido de estupro”.
Terminada a violência, o agressor a obrigou a andar com ele de mãos dadas até uma outra rua e foi embora correndo. “Voltei para a avenida mais movimentada e peguei um táxi. Como estava abalada, o motorista notou e acabei contando o que aconteceu. O taxista me disse que mereci por estar na rua sozinha até aquela hora, e ficou dando voltas enquanto me humilhava”, conta Cínthia*. Ao chegar em casa, a assistente social tirou as roupas do corpo e as jogou fora, tomou banho e tentou dormir sem sucesso. Cínthia nunca contou ter sobrevivido ao estupro e a violência cometida também pelo taxista para ninguém de sua família.
A denúncia como uma questão
Após ter sido estuprada, Fran Cardoso se deparou com um rapaz que parou uma viatura da polícia para que ela pudesse ser levada a delegacia para prestar queixa. Segundo seu relato, tudo aconteceu muito rápido. O processo de denúncia para ela, no entanto, foi tão traumatizante quanto a violência sexual sofrida. “São muitos processos burocráticos para que a gente consiga efetivar a denúncia”, explica. Sua mãe e tia, que moravam em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), foram informadas sobre o crime. Rapidamente ambas se deslocaram para apoiar Fran. Ela diz que somente com o apoio das matriarcas da família conseguiu ser forte para proceder com a denúncia. “Entrar em um carro da Polícia Militar, sozinha, isso por si só já foi um processo extremamente agressivo e violento”, disse Fran.
Ela foi conduzida ao Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE), onde se deparou com uma série de pessoas negras em situação de vulnerabilidade, acidentadas e em desespero. Em hospitais com atendimento especializado para atender vítimas de violência sexual, elas costumam passar, segundo Fran, por uma espécie de “annaminesie”, onde por várias vezes é preciso contar sobre a violência sofrida com riqueza de detalhes.
Acolhida pelo Projeto Viver, Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) da Bahia, Fran acredita que poucas mulheres saibam sobre a existência do serviço. Além de como é o procedimento para denunciar e evitar doenças sexualmente transmissíveis em casos de estupro. Porém, mais do que isso, existem pessoas que não sabem diferenciar importunação sexual de assédio sexual, nem mesmo entedê-los como contravenção penal ou crime.
Veja neste minidoc o relato de Fran:
Diferença entre assédio sexual, importunação sexual e estupro
A advogada feminista familista e antiproibicionista Luíse Reis alerta sobre as diferenças entre os crimes de importunação sexual, assédio sexual e estupro. O assédio sexual pressupõe relação entre o abusador e a vítima, geralmente de hierarquia. Ocorre por exemplo em ambientes privados como no trabalho, e é associado ao assédio moral, já que existe uso do poder hierárquico por parte do abusador.
A importunação sexual ocorre quando não há qualquer relação da vítima com o agressor. A Lei de Importunação, segundo a advogada, já existia, e a contravenção penal se caracterizava como Importunação ao Pudor. O que ocorreu em 2018, com a chamada Lei de Importunação Sexual (LIS), é uma especificação da Lei de Importunação ao Pudor. Naquele ano, muitos casos de violência sexual estavam ocorrendo em transportes públicos, ônibus e metrôs, em circunstâncias que dificultavam a identificação dos agressores. Daí vem a exigência de uma estrutura no transporte público e treinamento para os motoristas para que na ocorrência de casos, tanto os agressores sejam identificados, como a vítima seja acolhida e conduzida aos órgãos competentes para prestar queixa.
Na Constituição, “importunação sexual” significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima. Ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com objetivo de satisfazer a própria lascívia – desejo – ou a de terceiro”.
“Seja no transporte público ou na esfera doméstica, nós, mulheres, não queremos mais ser tratadas como objetos”, diz Luíse Reis. Segundo a advogada, “a Lei de 2018 trouxe para a sociedade esse conhecimento de que ‘esse comportamento, apesar de cultural e social, não é mais tolerado”’, completa. A Lei de Importunação Sexual ajuda a enquadrar casos onde não há conjunção carnal e grave ameaça.
O Código Penal – Decreto/Lei nº 2.848, artigo 213 de 7 de dezembro de 1940 – prevê como estupro: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. A pena de reclusão vai de 6 a 10 anos. Se o estupro resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor 18 anos, a pena de reclusão é 8 a 12 anos. Quando a conduta resulta em morte da vítima, a pena vai de 18 a 30 anos. Existe ainda a tipificação do crime de estupro de vulnerável – que inclui crianças menores de quatorze anos ou pessoas com deficiência mental e efermidades.

A violência também é psicológica
Liana Sacramentina*, também soteropolitana, autônoma, sobreviveu por mais de uma vez à importunação sexual em transporte público quando mais nova. Tímida, ela quase nunca fala sobre a situação e considera que precisaria de acompanhamento psicológico no pós-ocorrido, mas isso nunca aconteceu. Sem dar muitos detalhes sobre o assunto, ela considera que na época, muito pouco se falava sobre o fato de importunação ser um crime e por isso, teve medo e não tomou a atitude de denunciar.
De acordo com Laura Almeida, psicóloga e mestranda do Programa de Pós Graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher/UFBA, o silenciamento com relação às denúncias de violência sexual tem a ver com a estrutura do Estado, no sentido do acolhimento e da justiça com relação a esse agressor. “Existe uma estrutura que assassina pessoas negras todos os dias. E com relação as mulheres negras no quesito da violência sexual não seria diferente”, alerta a psicóloga. A mulher, segundo ela, tem geralmente medo por si e também pela família.
Para Laura Almeida, existe muita influência da colonialidade nesse processo. O silêncio acaba sendo prejudicial para as mulheres negras porque as impede de se sentirem como seres humanos. “Nós merecemos ser amadas, respeitadas e merecemos viver a vida de acordo com os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos”, defende.

Passos para o enfrentamento
Para Luíse Reis, uma questão fundamental para ser debatida quando o assunto é violência sexual é a masculinidade tóxica. Isso se soma a uma infância de subalternidade para as meninas e de heroísmo, satisfação das vontades, dentre outros quesitos, para os meninos.
“Há séculos é repassada a ideia de que o corpo da mulher negra deve ser usado como objeto, desejado sexualmente, manuseado sem pudores. Pois, segundo o incentivo social, a mulher negra não é digna de respeito”, explica o psicólogo Aécio Morais, especializado em gestalt-terapia e membro do projeto Seja Homem!. Ele debate masculinidades através de rodas de conversas e outras atividades e acredita que existem formas a curto e longo prazo para o enfrentamento à violência sexual contra mulheres, e especificamente mulheres negras, por meio de debates sobre masculinidades com os homens.
“No curto prazo, precisamos conversar genuinamente com homens, o maior grupo de homens possíveis, mas conversar de verdade, sem ataques ou brigas e isso não é fácil”. Já no longo prazo, Aécio explica que é preciso ensinar desde cedo que as emoções e o diálogo não são antônimos das masculinidades. “Quanto mais cedo as crianças internalizarem isso e encontrarem espaços para serem mais abertos sobre o que sentem, entenderão que os corpos das mulheres negras não são objetos de uso”, complementa.
“A violência gera traumas e esses traumas precisam de acolhimento psicológico e apoio no sentido de uma rede de apoio de amigos e familiares para o enfrentamento”, defende a psicóloga Laura Almeida. Para ela, a psicologia infelizmente ainda não contribui como deveria para esse acolhimento. “Há uma omissão dos impactos psicossociais do racismo nas nossas vidas. Então, a psicologia infelizmente ainda precisa caminhar muito para contribuir com o bem-estar das mulheres negras e especialmente mulheres negras vítimas de violência sexual”, acredita.
Laura, que atende vítimas de violência sexual em clínica, acredita que hoje o mais necessário para o enfrentamento às violências sexuais é uma estrutura gratuita que seja politicamente voltada para a população negra. “Muitas desistem de denunciar justamente por saber que podem passar por esse processo de violência institucional na hora da denúncia”. Fazendo uma crítica a sua própria área de atuação, Laura diz que a psicologia precisa se responsabilizar “pelas suas ausências”.
A advogada Luíse Reis orienta que as vítimas, e ao mesmo tempo sobreviventes da violência sexual, não se calem. “Sei que já é um trauma muito grande ser vítima de importunação, assédio sexual, estupro ou outras violências. Mas, procure a sua rede de apoio, e a rede técnica (Estado, psicólogos e etc) para que esse agressor não continue fazendo outras vítimas”, aconselha.
Para a jornalista Joseanne Guedes, educação e enfrentamento sério às estruturas racistas é um dos meios de mudanças para este cenário devastador. “Ser mulher já lhe garante lugar alvo desse tipo de crime. Quando se é negra parece que não te vêem como gente, e isso é reflexo da impessoalização e desumanização do corpo preto, visto sempre como algo disposto e preparado para prover o prazer”, explica.
Fran Cardoso, primeira sobrevivente citada na reportagem, estimula que aspectos relacionados com a estrutura física das cidades sejam avaliadas pelos governos. “Eu, enquanto uma mulher negra, me sinto muito mais exposta andando na rua à noite por conta do espaço físico de Salvador”.
O mesmo acontece com mulheres negras de outros estados. Dez mulheres sobreviventes de violência sexual responderam a um formulário publicado pela Afirmativa a fim de colher depoimentos para esse texto. Todas disseram não se sentir seguras no ir e vir das zonas urbanas do Brasil.
O combo: estrutura física das zonas urbanas, machismo, masculinidade tóxica e racismo atravessam a vida das mulheres negras. Dialogar sobre o tema e desbravar caminhos para a resolução dessas violências é uma tarefa de toda sociedade.
*Algumas fontes desta reportagem, por segurança, preferiram não se identificar. Os dados fictícios a exemplo de nome e sobrenome estão identificados com *.