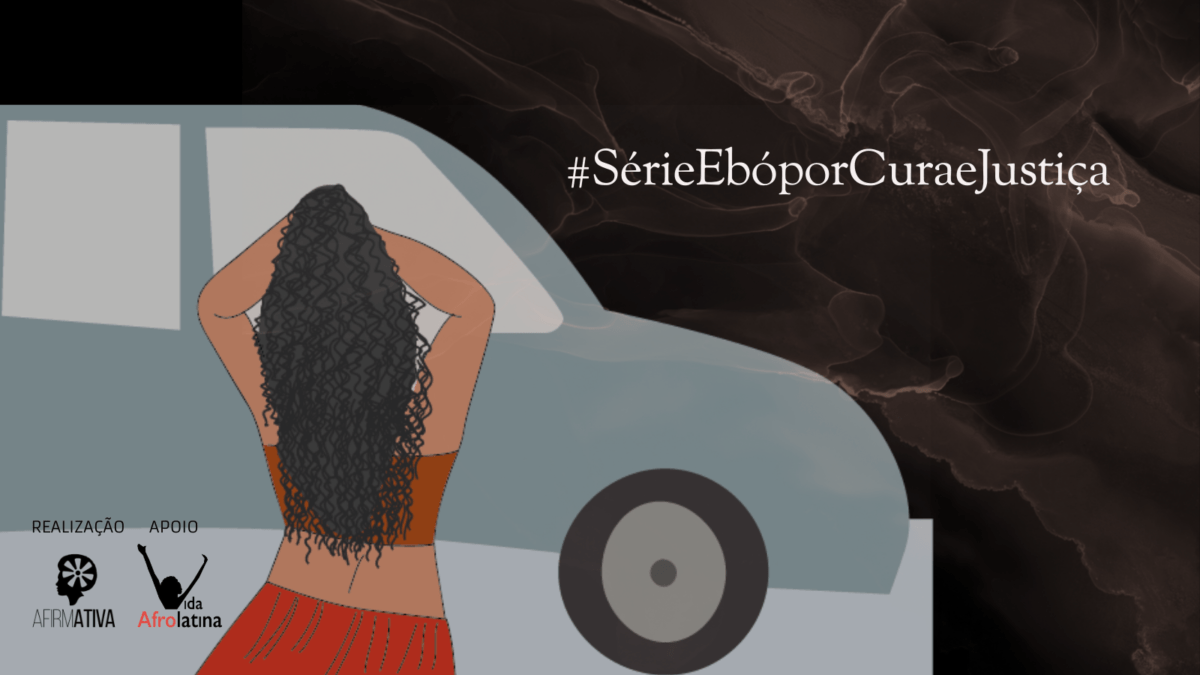Retratos de violências e exclusões vividas por mulheres (cis e trans) que atuam como profissionais do sexo nas ruas
Por Brenda Gomes e Díjna Torres
Arte: Ani Ganzala
“Três pessoas saíram do carro com paus e eu saí correndo. Me derrubaram em uma vala e começaram a me dar pauladas. Pularam em cima de mim, chute, pedrada, e a única forma que eu tive para me salvar foi me fingir de morta. Prendi minha respiração por alguns minutos e eles começaram a diminuir o enforcamento e eu percebi eles indo embora. Eu fiquei com muito medo de eles voltarem, de abrir os olhos”. O relato é de Linda Brasil, mulher trans, vereadora (PSOL) mais votada em Aracaju nas eleições 2020. O fato aconteceu quando ela trabalhava como profissional do sexo.
“Ele parou no ponto, perguntou o valor do programa. Eu cumpri o que combinamos, mas além de não querer me pagar o que havíamos combinado, ele não queria me deixar sair do quarto. Foi quando eu comecei a gritar para sair. Ele me apertava e começou a me bater, ele dizia que estava armado, que ia me matar. Precisei ficar quieta como forma de me defender. Só pensava no meu filho e que não sairia de lá viva. Fui obrigada a ter relação com ele novamente. Essas coisas não acontecem sempre, mas quando acontecem você se sente ainda mais desumanizada, sem apoio e sem ninguém.” Relata Beatriz Barbosa*, 33, garota de programa em Salvador na Bahia.

Seja em Sergipe ou na Bahia, seja cis ou trans, as histórias das mulheres que trabalham como profissionais do sexo no Brasil se cruzam. Marcadas pelas violências e opressões, a “vida fácil”, como é preconceituosamente denominada, está atrelada muitas vezes a fatores relacionados a desigualdade de gênero, socioeconômicas e raciais. Apesar dos avanços nos estudos relacionados à violência de gênero, considerada um problema global, raramente nestas discussões são incluídas a violação de direitos e abusos vivenciados por essas mulheres.
Ainda são poucos os dados referentes a violência contra as profissionais do sexo no Brasil. A pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde de Brasília, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, entrevistou prostitutas em dez cidades brasileiras. De acordo com o estudo, 66,4% das entrevistadas já se sentiu discriminada e os principais motivos foram: pela profissão e falta de dinheiro ou condição social; 59,5% relatou ter sofrido violência verbal; 38,1% relatou violência física; 7,9% relatou já ter sofrido violência policial. E no quesito violência sexual, 37,8% das mulheres entrevistadas relatou que sofreram em algum momento ao longo da vida.
Maria Fátima Medeiros é uma das fundadoras da Associação das Prostitutas da Bahia – APROSBA. Organização sem fins lucrativos, que desde 1997 tem buscado apoiar e organizar mulheres (cis e trans) que trabalham como prostitutas no estado. Ela afirma que o combate a violência é um desafio que acompanha as profissionais do sexo desde sempre. “Nosso trabalho é baseado em valorizar as prostitutas como cidadãs, que têm direitos e deveres na sociedade. Infelizmente, ainda há a desumanização dessas profissionais, seja pelas suas famílias, pelos clientes e/ou pela sociedade como um todo”, comenta.
Medeiros conta que ainda é difícil contabilizar os casos de violência no estado, pois não é comum que as profissionais do sexo se dirijam as delegacias para prestarem denúncias. “Quando a violência bate à porta somos nós por nós! É muito difícil uma garota de programa ir até uma delegacia prestar queixa. Até porque quando chegamos a DEAM (Delegacia da Mulher) não somos atendidas, pois eles alegam que lá somente podem ser tratados casos de violência doméstica. Nos encaminham para uma delegacia comum, onde, muitas vezes, o atendimento é vexatório”, conta.
Em contato com a assessoria da Polícia Civil da Bahia, a nossa equipe foi informada que as DEAMs “são destinadas exclusivamente ao atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, em cumprimento à Lei 11340/2006 (Lei Maria da Penha). Contudo, o protocolo interno, lastreado no Decreto Lei 3.689/1941, determina que as demais ocorrências sejam registradas e apuradas na unidade policial da área do fato. Desta forma, os casos de delitos praticados em desfavor dos profissionais do sexo devem ser registrados na delegacia da área onde o fato ocorreu.” A instituição ainda informou que A Polícia Civil dispõe de um serviço de ouvidoria, onde o cidadão pode enviar sugestões, críticas e reclamações pelo email ouvidoria.pc@pcivil.ba.gov.br, ou nos telefones: (71) 3116-6408 e 99631-5259.

Subsistir para existir
A decisão de trabalhar como profissional do sexo foi tomada por Vanessa*, 46, natural de Feira de Santana (BA), após fugir de casa onde era vítima de violências. Ela viu na prostituição a possibilidade de sustento. “Meus irmãos e meu pai eram alcoólatras, e batiam muito em mim e em mainha. Um dia eu estava sozinha em casa, meu pai chegou tão alucinado que me bateu tanto e eu desmaiei. Quando eu acordei estava com a roupa rasgada. Sem calcinha, sem sutiã. Eu tinha 17 anos. Quando mainha chegou a gente combinou de fugir. Era muito difícil arranjar trabalho que desse para nós duas comermos e pagar um aluguel. Foi quando uma moça me disse que eu poderia ficar com um cara e ele me pagaria. Era isso ou não comer. Foi aí que eu comecei”, conta.
Com 25 anos de atuação, Vanessa relata que já viveu diversas histórias de violência durante os programas, mas que somente uma vez tentou denunciar. “Quando você faz programa você está exposta a tudo. A uma doença, pancadas, assalto, racismo… não foram poucas as vezes que me xingaram por eu ser uma mulher negra, não. Você sai para trabalhar sem saber se vai voltar. Minha mãe fica em casa rezando por mim”, desabafa.
“Uma vez o cliente jogou gasolina no meu corpo e eu saí correndo na rua pedindo socorro. Um comerciante, graças a Deus, que me ajudou. Eu fui na delegacia prestar queixa, mas ficou por isso mesmo, ainda mais que era gente grande, que tinha dinheiro. Eu não me arrependo de ter começado nessa vida. Se não fosse isso, eu e minha mãe poderíamos estar mortas de fome, ou meu pai matava a gente. Eu tive que ter coragem para sustentar minha decisão.” Vanessa*, 46 anos
Prostituição e a violência contra às mulheres trans
Se para as mulheres cis, exercer o trabalho da prostituição é um desafio, para as mulhres trans a realidade não é diferente. De acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 90% das mulheres trans e travestis tiram o sustento do próprio corpo. O dado revela a realidade da exclusão social vivida pelo público no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Para as travestis entrevistadas, as ruas representam uma necessidade para se manterem vivas, que é a prostituição. Condicionadas às diversas formas de violência, essas profissionais do sexo buscam esses espaços como meios de sobrevivência, sobretudo pela falta de oportunidades no mercado de trabalho formal. Ainda, segundo os dados da Antra, pouco mais de 4% dessas mulheres têm carteira assinada. A Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (ABLGBT) expõe que 76% das pessoas trans já sofreram algum tipo de exclusão no processo educacional e, por conta disso, somente 18% concluíram o ensino.
O Brasil apresentou aumento de 13% nos casos de assassinatos de pessoas trans em 2020, mesmo no período de pandemia do coronavírus. Segundo relatório da Antra referente ao primeiro quadrimestre de 2020, foram 34 notificações de assassinatos, 11 suicídios, 22 tentativas de homicídio e 21 outras violações de direitos humanos. Além de 6 casos de mortes relacionadas à Covid-19. Vale ressaltar que todas as pessoas trans assassinadas, até o momento apresentado pelo relatório, eram travestis ou mulheres trans.
Para além de todo o processo de violência e invisibilidade, há a resistência por parte dessas mulheres, que criam estratégias para reivindicar os espaços e afirmar suas identidades. “A transfobia é estrutural, antes mesmo de eu fazer a transição, de afirmar minha identidade publicamente, para minha família, para a sociedade, eu já sofria transfobia,por não me adequar aos padrões de gênero e já me perceberem como uma pessoa trans” ressalta a vereadora Linda Brasil. Ela explica que mesmo que ainda não se denominasse, já que a transgeneridade é diferente da orientação sexual, vivia um terror e uma série de violências pelo seu jeito.
Outro exemplo de caso parecido com a história da vereadora Linda é o de Brunna Darlyn*, 28 anos, alagoana que foi morar em Sergipe para tentar uma vida melhor e fugir do preconceito e rejeição dos familiares. História que não é diferente das de muitas meninas e mulheres trans que acessam à prostituição após a rejeição familiar e falta de oportunidade no mercado de trabalho formal.
Para Brunna, foi tudo de repente, ela relata que ficou desempregada, foi para Aracaju e começou a trabalhar numa boate, fazendo inicialmente serviços gerais. “Lá, eu comecei a fazer programa (é um local de atividades de prostituição), vi que dava dinheiro, que ganhava muito, então terminei gostando e estou até hoje nesta vida”, conta. Ela afirma que convive constantemente com os julgamentos da sociedade. “Existe muito preconceito no mercado de trabalho, muito mesmo. É muito difícil a relação, trabalhar com outra coisa que pague o mesmo ou mais do que o que se ganha na prostituição”, disse.
Jéssica Tylor dos Santos, 49 anos, presidenta da TransUnides, associação das travestis e trans de Aracaju, trabalhou como doméstica, babá e prostituta. “Eu nasci no interior (de Sergipe) e meu pai ao descobrir, na verdade fui eu quem contei a minha sexualidade, ele não aceitou e daí eu tive que sair de casa. Eu saí de casa muito cedo, aos 11 anos de idade, e vim para Aracaju (SE)”. Jéssica conta que foi morar com uma tia, e foi quando começou as dificuldades. “Então, muito cedo eu tive que ir à prostituição, foi meu primeiro emprego, depois, eu cansada da vida da prostituição, arrumei emprego em casa de família. Minha vida não foi fácil”, desabafa.
Não bastasse a exclusão por parte de sua família, Jéssica enfrentou a exploração de sua mão de obra como doméstica. “As pessoas achavam que pelo fato de me aceitar por eu ser trans, então eu tinha que passar por aquelas dificuldades todas de trabalho. Voltei à prostituição de novo, naquela época (década de 90), a gente não podia sair durante o dia na rua pelo fato de se vestir diferente, as pessoas eram muito agressivas”, afirma.
Em 1998, Jéssica decidiu unir forças a outras travestis para fundar a Associação das Travestis, com o intuito de lutar por direitos e acolher essas mulheres vítimas da exclusão social e das diversas formas de violência. “A gente ainda percebe que é difícil, mesmo tendo a qualificação, que as pessoas nos empreguem, a não ser um concurso público e mesmo as concursadas já passaram por dificuldades com a discriminação por ser trans”, explica. A presidenta da TransUnides aponta que muitas coisas ainda precisam mudar. “Vamos continuar existindo e resistindo a esses preconceitos, a essas violências, e a gente vai ocupando os espaços que são nossos por direito. Essa também é a função da associação, que hoje mudou o nome para TransUnides, para acolher pessoas trans também”, comenta.

A pandemia para quem não pode fazer teletrabalho
Que a pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades e tornou a vida de muitos brasileiros ainda mais difícil, todo mundo já está cansado de saber. Mas, o que fazer em tempos de distanciamento social, quando o contato corporal não é dispensável durante o trabalho?
Fátima Medeiros, da Aprosba, afirma que durante o cenário pandêmico a desumanização das pessoas que se prostituem foi ainda maior. “Durante a pandemia muitas mulheres (cis e trans) morreram por conta da Covid-19, mas também por conta da fome. Muitas aceitaram fazer programas super baratos, só para conseguir se manter”, relata. A profissional conta que a entidade recorreu a órgãos públicos da Bahia, mas obtiveram poucos retornos. “As cestas básicas que recebemos distribuímos. Mas, claro, não dá para todo mundo. Não fomos colocadas como público prioritário na vacinação. Foram poucas que conseguiram receber auxílio emergencial. Mais uma vez a sociedade da moral dos bons costumes fingiu que não existimos”, lamenta.
Em Aracaju, a doutora em antropologia e historiadora, Elayne Passos, dirigiu e assinou o roteiro do minidocumentário “Travestis da Rua da frente”, lançado em setembro de 2020. O filme mostra as dificuldades e enfrentamentos ao longo da vida dessas mulheres e que foram amplificadas ao longo do período de isolamento. O material está disponível neste link.
De acordo com a antropóloga há uma dinâmica particular estabelecida entre o espaço urbano e as travestis, e que apesar das finalidades institucionais/oficiais que embasam as sucessivas intervenções urbanas com a finalidade de expurgar, “existe, na contramão, uma força reativa, persistente e marginal, não disposta a ceder aos objetivos pré-definidos para a região. As travestis compõem uma fração dessa força continuamente renovadas a cada nova construção, reforma ou restauração ali feita”. Ela ressalta que as travestis não se limitam à exclusão e à prostituição, porém, a forma como elas são mantidas e apresentadas no cotidiano das paisagens urbanas, em muitos momentos, relegam esse papeis à elas.
Pensando em reduzir a contaminação por coronavírus, que a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), elaborou uma cartilha com dicas para pessoas que se encontram em situação de prostituição. O documento pode ser acessado clicando aqui.
*Nome usado pelas profissionais nas ruas. A prática é comum por diversos motivos,entre eles privacidade e segurança.