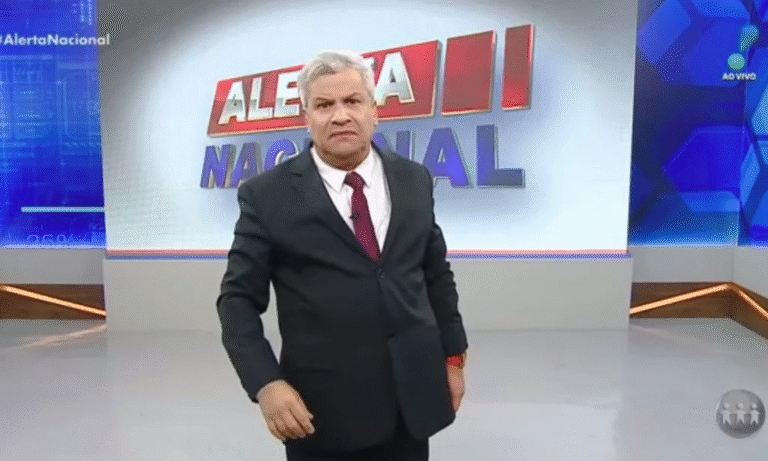Histórias de profissionais do audiovisual, saúde e educação que se mobilizam para provocar mudanças sociais
Por Andressa Franco
O Dia Nacional da Visibilidade Trans teve origem a partir de um ato nacional para lançamento da campanha “Travesti e Respeito”, em 29 de janeiro de 2004. A data foi escolhida por ter sido um marco na história do movimento contra a transfobia e na luta por direitos. Se passaram 18 anos e a humanidade caminha entre avanços e preocupações.
Assistimos, no início do ano, a atriz Mj Rodriguez se tornar a primeira mulher trans a vencer um Globo de Ouro. Mas também acompanhamos, nessa semana, a vereadora mais votada de Niterói, Benny Briolly (PSOL), receber, mais uma vez, ameaças de morte. E faz menos de quatro anos que Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a transexualidade da lista de doenças mentais.
É possível perceber esse paralelo entre avanços e retrocessos nas mais diversas áreas. No audiovisual, por exemplo, o manifesto ‘Representatividade trans já. Diga não ao Transfake’ foi lançado em 2017 pelo Coletivo T. No ano seguinte, o seriado teen da Globo, Malhação, teve em seu elenco, pela primeira vez, uma atriz trans: Gabriela Loran.
A jovem de 28 anos acredita que tem havido crescimento nas oportunidades nos últimos anos. No entanto, ainda sente falta de personagens mais profundos interpretados por pessoas trans. “Eu sinto que, por mais que a gente tenha oportunidade, a nossa linha dramática ainda é muito superficial. As problemáticas sempre são: ela vai ou não poder usar o banheiro? Nunca tem uma história”.

Para Gabriela, as produções independentes ainda conseguem sair na frente nesse debate. Mas, quando se trata das grandes mídias e grandes publicidades, os artistas trans ainda encontram limitações.
“A gente vê cenas lindas, por exemplo, a Carolina Dieckmann naquele personagem que tem câncer e raspa os cabelos. Olha a possibilidade de encenação que ela teve. Era importante a minha imagem ali [na Malhação], mas não tinha tanta profundidade. Eu sou uma mulher trans, sim, mas ser trans não define a mulher que eu sou”, enfatiza.
A busca por referências é algo comum para qualquer pessoa, e se ver nas telas é um caminho para isso. Mas também é muito comum buscar referências entre professores, por exemplo, algo que dificilmente uma pessoa trans consegue ter enquanto estudante. Foi por isso que Bruno Santana, hoje professor de educação física, optou por essa carreira. Para ser o professor que ele não teve, já que passou a infância se vendo excluído, principalmente nas aulas de educação física.
Bruno se formou pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e levou as vivências escolares para sua monografia, onde contou sua história em forma de autobiografia. Inclusive os desafios dentro da própria universidade para ter a identidade de gênero reconhecida.
Hoje é pesquisador das transmaculinidades negras e transativista pelos coletivos De Transs pra Frente e Transbatukada. Além de um dos organizadores e autores do livro ‘Transmasculinidades Negras – Narrativas plurais em primeira pessoa”. E idealizador do arquivo “Transencruzilhadas da Memória”, que surge pra registrar, preservar e visibilizar as memórias e histórias de homens trans e pessoas transmasculinas negras brasileiras.
“Eu tive várias dificuldades [para acessar o mercado de trabalho], qualquer pessoa trans e travesti vai ter. Quando tentei fazer estágio, mandava o currículo, e mesmo atendendo todos os requisitos, quando a gente marca a entrevista, a partir do momento que o contratante identifica em nós a transgeneridade, a vaga de emprego desaparece”, relata.
Outro espaço onde a presença da comunidade trans é imprescindível, porém rara, é a saúde. Consultas médicas estão no cotidiano de todas as pessoas. Mas, para quem é trans, essa possiblidade desperta inúmeros gatilhos.
Na terceira temporada de POSE, série que rendeu o Globo de Ouro à Mj Rodriguez, a personagem da protagonista estuda para ser enfermeira justamente por sentir falta de pessoas como ela para atender pacientes como ela. Salvador, por exemplo, tem um Ambulatório Transexualizador instalado desde 2016, mas ainda não conta com nenhum profissional trans atendendo no local.
O assistente social Ailton Santos, 52 anos, homem cis que coordena o espaço, hoje tem como meta mudar esse cenário. As únicas experiências foram com uma enfermeira e um biomédico trans em estágio. “Foi um impacto muito grande, funciona muito bem. É incomparável esse par que ocupa o lugar de profissional, ninguém que é cis vai saber”.
Para isso, não tem aceitado estagiários, a menos que sejam trans. “Não é que eu estou preterindo as pessoas cis, elas têm muito mais oportunidade. Se são três vagas, duas pessoas trans, uma pessoa cis, a gente vai inverter a cota”, explica.
Especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e UERJ respectivamente, foi motivado a lutar pelo ambulatório pela pesquisa que realizou no doutorado sobre a saúde da população trans. “Mesmo entendendo que um ambulatório é um lugar especializado e que não deve ser um único lugar num sistema de saúde para cuidar desse determinado público alvo”.
Comparando dados das cidades do Rio de Janeiro e de Salvador, entre 2010 e 2014, Ailton percebeu que a saúde da população trans, travesti e não binária em Salvador, era muito mais precária pela falta de espaços especializados e de profissionais de saúde também especializados. Com conhecimentos técnicos, mas também com conhecimentos de gênero e sexualidade despatologizados para atender essas pessoas. Foi quando elaborou a proposta do ambulatório e buscou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
“A maioria dos ambulatórios para pessoas trans, travestis e não binárias estão alocados em espaços de saúde mental ou de cuidado de IST’s, isso é historicamente persecutório e perverso. Por isso que a gente implantou o ambulatório escutando essas pessoas”.
Além da ausência de profissionais trans, o coordenador chama atenção para o fato de o ambulatório não ser habilitado, ou seja, não tem cotação orçamentária mensal do Ministério da Saúde. O que impede a compra de mais equipamentos, aplicação de mais tecnologias, contratações de novas especialidades.
O papel das oportunidades
Para ter no currículo os trabalhos que tem hoje, a trajetória de Gabriela não foi fácil. Apesar do amor por atuar desde a infância, sua família nunca teve condições de pagar um curso de teatro. Com seu primeiro emprego em uma farmácia, juntou dinheiro, prestou vestibular para a Casa das Artes de Laranjeira, e começou a cursar, ainda como “Gabriel”.
E foi no teatro que “reivindicou Gabriela” e desabrochou enquanto uma mulher trans. Com uma rotina onde mal tinha espaço para dormir, já que, quando não estava nas aulas, estava trabalhando como garçonete para se sustentar, conseguiu se formar.
“Eu estava com muito medo porque as possibilidades sendo uma mulher trans e preta eram muito escassas, quase nenhuma”. E quando as oportunidades começaram a aparecer, não vinham com remuneração. Diferente das suas colegas atrizes cis nos mesmos trabalhos. O que gerou em Gabriela um “desânimo muito grande com a arte”.
Persistiu em ocupar esses lugares sem remuneração, para que pudesse ser vista. E nisso atravessou muitas dificuldades. Conta emocionada das vezes em que não tinha dinheiro nem para a passagem, e das que levou frutas dos cenários para casa para ter o que comer. Depois de ouvir muitos “nãos”, recebeu a ligação que alavancou sua carreira.
“Eu cheguei no hostel, coloquei a trilha sonora da novela e dormi escutando”, lembra. “No dia seguinte o telefone toca: ‘Oi, Priscila, tudo bom?’, eu respondi ‘Não, desculpa, aqui é Gabriela’, e ela diz ‘Não, é Priscila sim, você vai ser nossa Priscila da Malhação’. Sabe quando tudo faz sentido? Para além de ser a primeira trans, é muito bom ser reconhecida pelo seu trabalho”. Depois da oportunidade, Gabriela não parou mais de trabalhar. Passou a ocupar mais espaços atuando em séries, e até como protagonista de um filme internacional.
Uma chance também era tudo de que Bruno precisava para mostrar sua competência na área que escolheu. Chegou a passar em terceiro lugar em um processo seletivo para ser professor estagiário em uma creche, mas foi a nona pessoa convocada.
“Na primeira semana tive toda aquela dificuldade dos familiares entenderem que ali tinha um professor trans. Eles não queriam que eu ficasse muito tempo com as crianças ou as levasse ao banheiro, por exemplo” desabafa. Felizmente, com as crianças era muito diferente, elas não se importavam com o fato de o professor ser um homem trans.

“Elas infelizmente acabam reproduzindo as violências que acessam em casa, mas no momento da aula isso era insignificante”, acrescenta. “A transfobia dos pais acontece porque eles não tiveram professores diferentes. E não veem em nós a potência de sermos agentes transformadores no processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos”.
Tem jeito?
Para cada um dos fatores que gera retrocesso, a comunidade trans busca respostas. Gabriela, por exemplo, acredita que é possível que profissionais trans do audiovisual encontrem representação nas telas e profundidade em seus personagens. Mas para isso, é necessário interesse e iniciativa de quem já está inserido na indústria.
“Se eu tenho uma produtora e não existem pessoas trans roteiristas, eu vou dar um curso de roteiro gratuito pra pessoas trans. Cadê as diretoras trans? Existem? POSE é uma série foda, a diretora é uma mulher trans. Olha a diferença. Eu, por exemplo, sou diretora e não tenho nenhum tipo de trabalho, nunca fui convidada pra dirigir nada. Mas eu sei que eu posso, o talento e a sensibilidade pra isso eu tenho”.
Bruno também não tem dúvidas de que a educação que não inclui a diversidade não pode ser pensada enquanto transformadora. Com o conhecimento que acumulou em sua formação acadêmica, seu objetivo é descontruir as crianças nas escolas hoje, para que amanhã não se tornem potenciais agressores no país que mais mata pessoas trans.
“Isso é algo que a gente consegue reverter, e a educação é o mecanismo para isso, a partir do momento em que potencializamos as diferenças para que, no imaginário dessas pessoas, deixemos de ser uma ameaça”, defende.
A formação também é o caminho defendido por Ailton. Que acredita que os profissionais de saúde, dos mais velhos, aos que estão se formando agora, não estão capacitados para atender os corpos trans.
“Quando os profissionais vão trabalhar no SUS e não são preparados tecnicamente, eticamente, cientificamente para lidar com toda e qualquer pessoa, significa que o SUS é seletivo. A acusação das pessoas trans de que o SUS é um ‘CIStema’ voltado unicamente para pessoas cis hetero, não é uma locução de revolta, é apenas uma constatação”

Ailton lista especificidades da saúde trans, para as quais muitas vezes os médicos fecham os olhos. Como as técnicas que serão utilizadas pelos ginecologistas ao atender um homem trans, ou as consequências do uso do binder para homens trans que ainda tem mama, ou o fato de sangramentos na uretra apresentados por travestis sempre serem lidos como IST’s. Saberes que, acredita, deveriam ser construídos no espaço universitário.
“Quais são os impactos quando essa formação não acontece em lugar nenhum? Acontecem violências e transfobias institucionais imensas. Que começam desde a recepção, do desrespeito ao nome social, ao direito dessas pessoas usarem enfermarias, banheiros, conforme sua identidade de gênero”, pontua o assistente social.
O ambulatório oferece trainee para profissionais da saúde que queiram aprimorar seu atendimento a pessoas trans. Com oficinas sobre gênero e transgeneridade, e treinamento. “Estou muito confiante de que, quando eu me aposentar, vai ter muita gente boa para dar seguimento. Espero que a gente mude mesmo, porque está difícil pra todo mundo, mas para as pessoas trans está insuportável”, conclui.